Livro de Andy Warhol aborda culto à celebridade, amor e sexo.
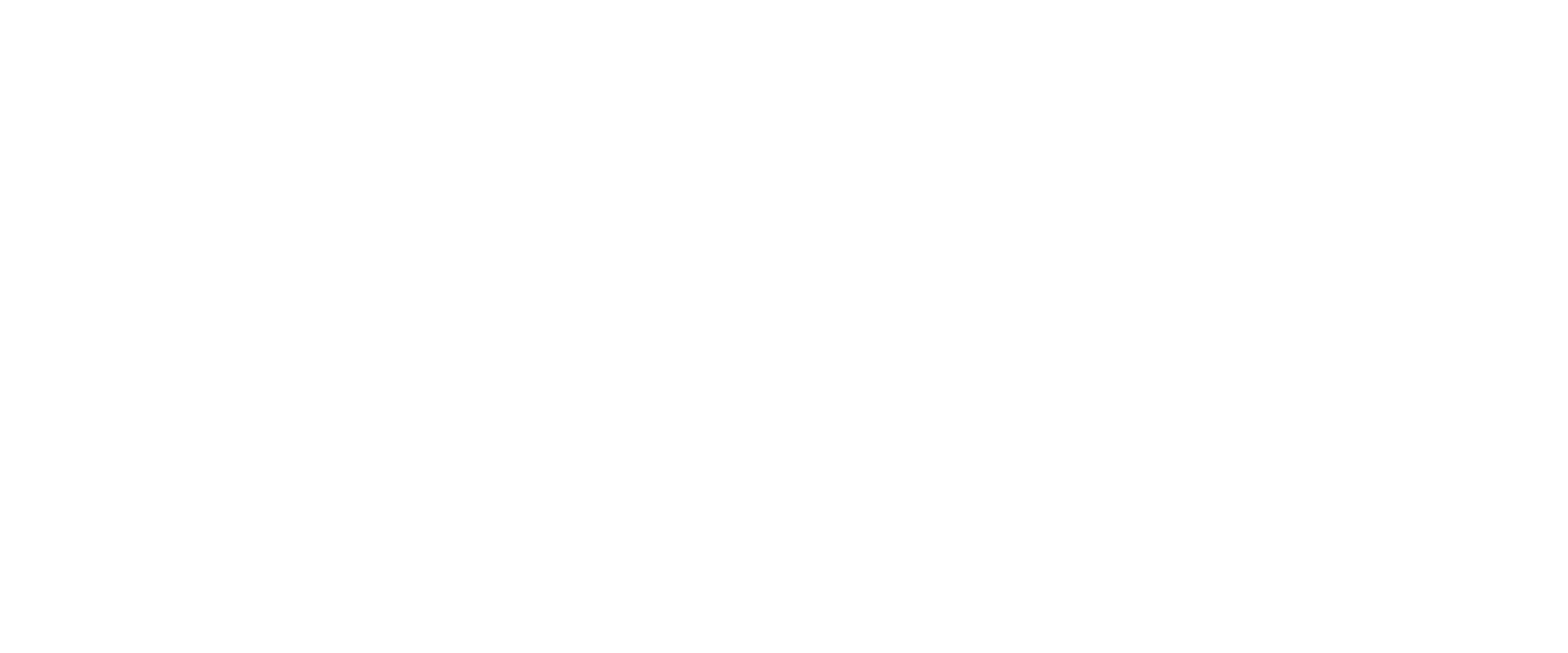
|
terça-feira, 16 de dezembro de 2008
|
|
No mesmo período em que ingressou no meio de arte, o americano Andy Warhol (1928-1987) pintou os cabelos de branco. Tinha 23 ou 24 anos, era graduado em design na cidade natal, Pittsburgh, e mantinha uma carreira promissora como artista gráfico. “Resolvi pintar o cabelo de branco para ninguém saber que idade eu tinha e ia parecer mais jovem para eles do que a idade que eles pensassem que eu tinha”, admitiu, matreiro. Os precoces fios pálidos, hoje indissociáveis da imagem do principal nome da arte pop, são um dos muitos truques revelados por ele em Filosofia de Andy Warhol: de A a B e de volta a A, lançado pela editora Cobogó com tradução de José Rubens Siqueira. Original de 1975, o volume prima pelas divagações salpicadas de tiradas irônicas e lembra papo de bar. Mas, por vias tortas, contribui mais para desvelar a contemporaneidade do que muito compêndio acadêmico. Vitiligo na infância A escrita, em ritmo leve, deve-se à compilação realizada pelos ghost writers Pat Hackett, secretário de Warhol, e Bob Colacello, editor da revista Interview, a partir de conversas entre Colacello, Brigid Polk e o artista. De autobiográfico, o livro tem quase nada - recorda superficialmente o vitiligo na infância, os primeiros tempos dividindo apartamento em Nova York, o período em que viveu de anúncios e desenhos de moda para lojas e para revistas como Vogue, Harper´s Bazaar e The New Yorker. Nada muito confiável, entretanto. Como Warhol comenta, inventava dados biográficos para cada entrevista que concedia, por pura diversão. Assim, que não se busque no livro evidências sobre o homem, mas o registro da construção de um mito. Que também não se espere grandes discursos sobre as premissas da arte pop. Embora intitule um capítulo como “Arte”, está longe de elucubrações sobre as obras que o deixaram famoso, apropriações do universo da publicidade e das celebridades como as caixas Brillo, as latas de sopa Campbell´s, as serigrafias de Marilyn Monroe, Elvis Prestes e Liz Taylor. O que o atrai é a arte empresarial, aquela que continuava a ser produzida sob sua assinatura, em seu escritório artístico Factory, enquanto ele viajava pela Itália, França, Inglaterra. “Arte empresarial é o passo que vem depois da arte. Comecei como um artista comercial e queria terminar como um artista empresarial. Depois que eu fiz a chamada ´arte´, ou seja lá como chamam, entrei na arte empresarial”, estabeleceu. Por caminhos diversos daqueles pregados pelo conceitual Joseph Kosuth, Warhol encontrou sua definição de uma arte desenvolvida a partir da idéia - e produzida em larga escala, conforme cabia a qualquer produto na América: “Queria eu ter inventado uma coisa como o blue jeans. Uma coisa para ser lembrada. Uma coisa de massa”. Paradoxal, Warhol considerava-se um solitário seguido por um séqüito, defendia que o nada é categoricamente a melhor coisa a se fazer ou pensar. Inúmeras vezes, classificou como esposa seu gravador de áudio, o qual carregava para todos os lugares. Entretanto, sua esposa ideal seria de carne e osso e “teria que estar montada na grana, me dar de tudo e, além disso, teria uma emissora de TV”. Aliás, ele sonhava ter um programa semanal na televisão, chamado Nada especial. Mas admitiu ter ficado mudo de pavor todas as vezes em que foi entrevistado durante uma transmissão ao vivo. Defensor do vazio e do nada, Warhol ainda não conseguia tratar com indiferença os três tiros que levou, em 1968, da feminista Valerie Solanas, fundadora da Society for Cutting Up Men (Sociedade para Eliminar Homens, ou para Capar Machos, em bom português). O artista tenta soar blasé, mas a preocupação com o fim da vida é recorrente. Ele transborda de estupefação com o ataque sofrido: “Antes de atirarem em mim, eu sempre achei que estava mais metade lá do que inteiro lá - sempre desconfiei que estava assistindo à televisão em vez de viver a vida. (...) No momento em que estava levando os tiros e desde então, eu sabia que estava assistindo à televisão. Os canais mudam, mas é tudo televisão”. Relações platônicas E o pior, mal sabia Valerie que Warhol não era chegado em sexo. Confessa que preferia as relações platônicas, até porque detestava ser tocado. Aparentemente, ele nunca fez com Taxi, pseudônimo da modelo Edie Sedgwick, para a qual dedica o capítulo biográfico “Amor (Auge)”. Sem citar o nome da musa, estrela de filmes dele, Warhol a descreve como “um vazio lindo, deslumbrante”. Atribui a Edie a invenção da minissaia e do uso do colante de balé como traje completo. Mas a chama de drogada, suja e “egoísta a respeito de absolutamente tudo”. E lembra-se de quando ela o deixou por Bob Dylan – ou “Elvis Presley com Cérebro” – de quem foi namorada antes de morrer por overdose, em 1971. Apesar da mordacidade, o capítulo é um dos poucos em que soa sincero. Escrito quatro anos antes de A condição pós-moderna, de François Lyotard, e nove antes do artigo “Pós-modernismo, ou a lógica cultural do capitalismo tardio”, de Fredric Jameson, entre tantos outros que trataram do assunto, Filosofia de Andy Warhol demonstra as reverberações da chamada arte pós-moderna em seus primórdios. Características como o fim das grandes utopias, a simbiose entre consumo e arte, o pastiche e a postura irônica estão presentes numa naturalidade espantosa. Quase banal, o livro é relevante por dar como favas contadas o que a teoria e o meio artístico confirmaram na década seguinte. Visionário, embuste ou ambos, Warhol persiste, irredutível. Por Bianca Tinoco [Jornalista e pesquisadora de arte] Fonte: JB Online [16.12.08] |
| Veja todas as notícas já postadas até hoje, clique aqui. |
